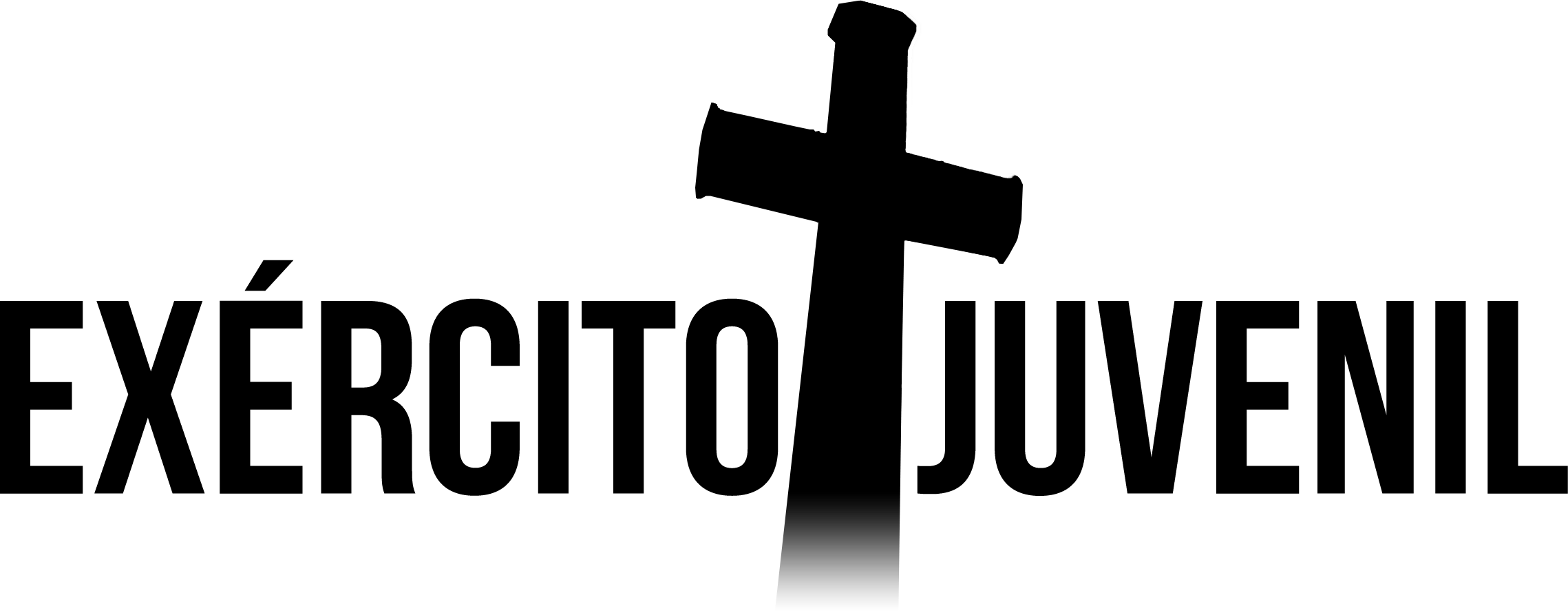Um verdadeiro exército de crianças e adolescentes é recrutado nas comunidades, todos os dias, para lidar com armas, tráfico de drogas e assaltos. Vulnerabilizados por condições de pobreza e desagregação familiar, tornam-se presas fáceis de criminosos. Entram numa jornada às vezes sem volta. Quase 10% dos homicídios ocorridos no estado entre janeiro e abril deste ano vitimaram menores de 18 anos.
São 199 assassinatos de crianças e adolescentes de um total de 2.038 mortes registradas no período, segundo a Secretaria de Defesa Social (SDS). São 69 corpos a mais quando a comparação é feita com os mesmos meses do ano passado.
Outros 480 sobreviventes dessa “guerra” terminaram encaminhados para as unidades da Funase nos dois primeiros meses do ano. O não cumprimento de metas determinadas por traficantes e dívidas de drogas estão por trás da maioria das execuções de crianças e adolescentes em Pernambuco. Não são os únicos motivos. Uma operação da Polícia Civil chamada Escudo da Juventude prendeu, em abril, 24 suspeitos desses crimes, todos ligados ao tráfico nas cidades de Olinda, Paulista e Recife. A vítima mais nova tinha apenas 13 anos.
Uma análise dos assassinatos revela mais: 42% das vítimas têm 17 anos, 93% são do gênero masculino, 51% foram assassinadas à noite ou de madrugada e 96% são pessoas classificadas pela polícia como pardas.
Compreender o contexto das ações violentas praticadas pelos jovens é mais um ponto de partida para uma reflexão sobre o assunto. Marcelo, 16 anos, traficante e assaltante desde os 14, usa o dinheiro do crime para sustentar a mãe e os dois irmãos mais novos. Para ele, ir à escola significa perder clientes no comércio de drogas. Débora, 17, tem celular e computador bons presenteados pela mãe. Luta contra a tentação dos convites para assaltar. Nem sempre vence.
Como pontua Marcelo Pelizzoli, professor do mestrado em direitos humanos da UFPE e coordenador do Espaço de Diálogo e Reparação da UFPE (www.ufpe.br/edr), a violência não é uma questão de caráter moral ou mera irracionalidade, mas um tipo de linguagem. “É um tipo de reação incorporada na forma de organizar as relações de sobrevivência biológica e psicológica e de reconhecimento, pertencimento ao grupo. Tudo que gera exclusão nesses níveis, conectados a pensamentos/imagens, emoções, necessidades, linguagem e sistema de relações, está fadado a encontrar respostas de violência.”
Na outra ponta dessas histórias estão as famílias dos adolescentes, agora mutiladas. Estão sem seus filhos e filhas, distanciados por estarem mergulhados na violência ou por terem sido assassinados. A dor de quem perdeu um ente querido nessas condições tem a mesma intensidade do medo. É um sentimento presente até o fim da vida. Um pavor de reviver toda a violência, de tornar-se alvo. Poucos falam ou mostram o rosto. Alguns evitam até mostrar a foto dos parentes.
Os relatos dos sobreviventes dessa guerra, ontem soldados e hoje autores de um novo olhar sobre a própria vida, são um alento. Auxiliados por uma rede de ajuda humanitária, as histórias de superação são como um chamado para entender que um outro final é possível.
OS SOLDADOS
“Bora, perdeu.
É um assalto!”
Débora surge entre as palafitas. Seu lar desde criança. Naquele trecho da capital pernambucana, os becos sem calçamento ofertam convites tentadores a crianças e adolescentes. Débora, vez por outra, aceita. Tem sido assim desde os 14 anos. Foi quando ela lançou pela primeira vez a frase: “Bora, perdeu. É um assalto!”.
No seu último roubo, a adolescente trouxe o suficiente para fazer a própria festa de aniversário. Acabara de completar 17 anos. A comemoração não vingou. Mataram um parente no mesmo dia. E Débora passou a data simbólica em profunda tristeza. Parte dela vivida em um cemitério.
Débora nunca está só quando decide assaltar. Sempre vai com dois ou três colegas. Geralmente homens. “Da primeira vez, fui com nada na mão. Depois, pegava uma sandália preta e a pessoa pensava que era um revólver e dava os pertences. Também já usei cabo de guarda-chuva. Outro dia fui de faca. Mas nunca roubei de revólver”.
No seu quarto na favela, Débora conta ter celular bom, computador bom. Todos objetos ofertados pela mãe, de quem era filha única até pouco tempo atrás. “Não precisava nem roubar”, diz. Mas os becos chamam, convidam para dar um “pega” na maconha. Fazer uns assaltos. “Meu Deus! Por que faço isso? Falei para minha mãe que esses meninos influenciam muito. Por esses dias veio uma colega de não sei de onde, arribada, dizendo: bora roubar? Tô precisando de dinheiro. Vou não, disse, tenho irmã e mãe. Entrei na minha casa. Falei para minha mãe. Sempre ela pede para eu me afastar. A minha cabeça diz: vai, vai. O coração diz que não. E o amigo diz: vai, vai.”
Débora respira a violência muito de perto. Desde pequena. É assim com a maioria dos moradores da favela onde mora. Sempre assistiu familiares e amigos usando droga, roubando, fazendo “avião” para ganhar R$ 100 por viagem. Já foi flagrada pela polícia, apanhou. Mas algo na fala final da adolescente destoa do cenário. É luz para quem deseja enxergar melhor as entranhas das comunidades carentes. “Tenho vontade de jogar futebol feminino. Alguma coisa que mude minha história. Esse negócio de droga, roubar, pegar coisa de mãe e pai de família que trabalha tanto e a pessoa vende por cem, duzentos reais não dá. Meu sonho também era ser cuidadora de bebê. Toda criança, quero cuidar. Boto pra dormir. Meu sonho é ser cuidadora de criança no hospital.”
Nos quatro primeiros meses do ano, 12 meninas com menos de 18 anos foram assassinadas em Pernambuco. O número representa 6% do total de crianças e adolescentes vítimas de homicídio no período. Parte delas foi morta pelo envolvimento com atos infracionais. Quase todos os mortos (94%) ainda são meninos na mesma faixa etária. “É muito importante pensar a condição da menina. Focar a especificidade. Não podemos nunca deixar de lembrar que elas são duplamente exploradas, ora pelos seus namorados, ora pelos agentes públicos. Muitas entram no mundo do crime para fugir da violência doméstica. Elas podem ter diferentes papeis nesse mundo do crime. Muitas estão em situação de rua e podem assumir até um papel de líder nesse universo. Desse modo, é importante desconstruir o mito de que elas estão à margem do poder do homem ou do adulto”, pontua Humberto Miranda, professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) e coordenador do Laboratório de História das Infâncias do Nordeste.
“O tempo que eu perco na escola,
deixo de atender clientes na boca”
O encontro com as drogas aconteceu nas escadarias do bairro recifense onde Marcelo mora desde o nascimento. Tinha 14 anos quando começou a observar com mais curiosidade colegas e vizinhos fumando maconha. Via também o movimento de dinheiro, a facilidade de circulação das valiosas notas entre vendedores e compradores do entorpecente. Não demorou para decidir entrar naquele mundo. Hoje tem 16 anos. É traficante de drogas e assaltante de casas lotéricas e mercadinhos. Só não assalta “pai de família”. Porque esse trabalha para sustentar a casa. Não merece ser roubado, justifica.
O levantamento da área a ser assaltada pode durar meses. É preciso saber se há policiais fazendo a segurança dos estabelecimentos. O embate, nesses casos, é mais perigoso. E pode ser evitado. “A gente passa uns meses fitando pra depois ir lá buscar a boa. Nos assaltos, uso armamento para intimidar as vítimas. Tem que usar arma pra não dar errrado. O cara sem arma é um homem sem ataque”, diz.
A arma usada pelo adolescente tem dono. É alugada nas comunidades próximas por valores que variam entre R$ 500 e R$ 800. O preço cobrado vai depender do local a ser assaltado. Na “bolsa de valores” do crime, uma investida na lotérica, por exemplo, vale mais que no mercadinho. “A gente só não pode perder a arma. Se perder, vai ter que pagar”.
Na rotina de Marcelo, assalto é como uma atividade secundária. Chega para somar quando o tráfico de drogas está ruim. “No tráfico a gente pega até R$ 3 mil por dia, mas tem que tirar o dinheiro do dono. Aí a gente ganha R$ 100 por cada bolsa que vende”. O dinheiro, conta o adolescente, é gasto com a mãe e dois irmãos mais jovens que ele. Não há outra renda em casa. O tráfico é o patrão de Marcelo. O sustento da família.
As bocas de fumo têm regras. E Marcelo sabe cada uma delas. O movimento precisa ser rápido. Dinheiro, só trocado. Moedas não são aceitas. “As moedas pesam muito e não dá para demorar dando troco. Por isso o dinheiro tem que vir certo”. O boom do movimento na boca acontece das 18h às 20h. É quando aparecem mais viciados. “Quando a maconha é de boa qualidade, um vai comunicando ao outro. Aí chove gente pra comprar. Cada ‘dola’ custa R$ 10”.
Marcelo tem 1,90 m e uma fala tranquila. Diz pensar em mudar de vida. Sair do tráfico e dos assaltos. Voltar para a escola. Arrumar um emprego. “Mas não tenho nenhuma ajuda. Um emprego é melhor do que viver como eu tô agora. No crime a gente corre risco de ser pego pela polícia, de ser baleado. Mas tem que batalhar do jeito da gente, do jeito que vem dinheiro mais fácil.”
No Brasil, 2.802.258 crianças e adolescentes de 4 a 17 anos estão fora da escola, assim como Marcelo. O dado é da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) de 2015. Segundo o estudo, a exclusão escolar atinge sobretudo meninos e meninas das camadas mais vulneráveis da população. Do total de crianças e adolescentes fora da escola, 53% vivem em casas com renda per capita de até meio salário mínimo.
Um levantamento chamado Educar ou punir? A realidade da internação de adolescentes em unidades socioeducativas de Pernambuco reforça a informação. Cerca de 95% dos adolescentes infratores encaminhados para as unidades socioeducativas no estado não têm acesso à educação nem antes nem após serem inseridos no sistema, apresentando algum índice de atraso escolar. Para Marcelo, por exemplo, estudar é prejuízo. “O tempo que eu perco na escola, deixo de atender clientes na boca”, compara.
“O que ganho no tráfico,
guardo uma parte no meu cofre”
A agilidade é moeda valiosa dentro do esquema de tráfico de drogas. Assim como em qualquer comércio, é a desenvoltura do vendedor que vai definir os ganhos do dia. Não basta somente estar atento à aproximação da Polícia. Quem vende entorpecente precisa correr contra o tempo para atender à clientela. Desde os 14 anos, Artur sabe bem como é essa rotina. Morador da periferia do Recife, o adolescente, agora com 16 anos, diz ser o mais rápido da boca de fumo onde vende maconha. “Quem mais vende lá sou eu. Sou o mais rápido. Tem dia que vendo quatro bolsas com 60 ‘dola’ cada uma. Precisa ser rápido quando está vendendo para a polícia não pegar a gente”, conta.
Diferentemente dos colegas da comunidade, Artur não usa o dinheiro que recebe do tráfico para sustentar a família. Ele tem sonhos. Pretende realizá-los. “Na vida errada, tem que ser assim mesmo, tem que traficar. Se não como é que a pessoa vai ter as coisas? Mas eu penso em trabalhar, casar e formar uma família. Também quero ser cabeleireiro. O que eu ganho no tráfico, guardo uma parte no meu cofre e o resto gasto no brega. Tô juntando dinheiro pra comprar uma moto. Não gosto de carro.”
Os dois anos dedicados à venda da maconha fizeram o adolescente aprender as regras da rua. A família não sabe o que ele faz quando está fora de casa. Matriculado numa escola a 15 minutos de onde mora, Artur quase nunca vai às aulas no horário noturno. Prefere a venda do entorpecente. “Quero sair dessa vida. Já cansei. Já fui ameaçado de morte, fiz muitas coisas erradas. Eu era uma peste. Agora, tô só traficando”. A facilidade em ganhar dinheiro, mesmo correndo perigos, escraviza os jovens vendedores de drogas.
O adolescente explica como é o funcionamento do ponto onde comercializa maconha e crack com mais dois amigos. “A gente vende pelos becos e vielas. Cada um tem seu ponto estratégico. Fica um na entrada do beco, um no final e o que vende fica na metade. Porque se chegar polícia a gente tem como ganhar pinote”, relata. A maconha é o produto preferido dos compradores, mas Artur conta que o crack é o que tem mais saída durante a madrugada. “Vem muita gente de fora do bairro para comprar, mas carro não chega perto de onde a gente fica e o crack não é muito procurado de dia”, explica.
A construção da personalidade de um adolescente autor de atos infracionais surge de uma reunião de fatores, diz o psicólogo Paulo Teixeira, lotado na Coordenadoria da Infância e Juventude do TJPE e nas promotorias de Infância e Juventude da Capital do Ministério Público de Pernambuco. “O envolvimento de adolescentes com as infrações vão desde o contexto social onde estão inseridos até a escola, a ausência do direito à cultura e ao lazer, as relações interpessoais com os amigos, família e as pessoas de referência. Além disso, têm os aspectos da personalidade de cada adolescente. Tudo isso faz parte dessa formação.”
“Estudo à noite.
Durante o dia eu trafico”
Juliano, 17 anos, coloca qualquer tipo de arma na mão para assaltar. Pode ser um revólver ou uma espingarda calibre 12. Seus alvos são estabelecimentos comerciais, como mercadinhos e lotéricas. Estudante de escola pública, o adolescente também trafica drogas na periferia do Recife. “Estudo à noite. Durante o dia eu trafico. De vez em quando, roubo também. Tenho que sustentar minha mãe e minhas irmãs. Não tenho pai. E a vida é essa mesmo. Tem que traficar para sustentar a casa. Minha mãe não trabalha. Recebe somente Bolsa-família.”
No local onde Juliano vende drogas, outros dois amigos de infância fazem o mesmo. Seguem um caminho de difícil retorno. “A gente tenta arrumar um emprego, mas não consegue e acaba indo para o tráfico. Comecei fumando e depois parti logo para vender. Tinha que sustentar a casa e fui para a vida errada”, justifica.
O adolescente diz que pensa em mudar, caso apareça uma oportunidade de emprego. Pode ser qualquer função, conta. Mas Juliano ainda não tirou a Carteira de Trabalho. Tem identidade e CPF. O adolescente também não frequenta a escola com regularidade. O espaço não é atraente para jovens como ele, envolvidos com as cifras convidativas do tráfico.
Um projeto chamado Escola Legal tenta convencer jovens como Juliano a voltarem para a escola. Os adolescentes em conflito com a lei em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto são matriculados automaticamente em uma escola se não estiverem matriculados. Além disso, são inseridos em cursos de qualificação e passam a ser monitorados.
O trabalho é uma parceria de responsabilidades que engloba o Judiciário, o Ministério Público de Pernambuco, a Secretaria de Educação, a sociedade civil organizada, a família do adolescente e a comunidade. “A violência é um problema de todos nós. A partir do momento que se adia uma busca real sobre a solução do problema, a coisa parece que vai piorando. A escola precisa ser respeitada como é a igreja”, diz o juiz titular da 3ª Vara da Infância e Juventude, Paulo Brandão.
OS SOBREVIVENTES
“Tire da fraqueza a força”
O dia está quente. Capaz de provocar suores de molhar a roupa. João chega pontualmente ao local marcado vestindo calça e camisa sociais. Em uma das mãos, tem uma Bíblia. Aproxima-se do carro da reportagem. Entra. João sorri. Parece alto para sua idade. Mas só tem 16 anos. E um histórico de prática de violência. Foram três semanas até o contato ao vivo acontecer. O encontro durou uma manhã inteira. Há dois anos, João diz ter deixado para trás o uso de drogas, o tráfico e a prática de assaltos. Agora, é membro de uma igreja pentecostal. A decisão de mudar de vida não foi tomada ao acaso. Algo simbólico aconteceu. Um “despertamento”, diz ele.
Era 2015, perto do carnaval, 18h, e o menino, então com 14 anos, preparava-se para assaltar motoristas de carros. Buscava dinheiro para divertir-se com amigos e amigas. Momentos antes, conta, a polícia tinha “pego” o dinheiro do grupo. Do grupo não, corrige, dos “outros”, das vítimas. “A arma era de brinquedo, mas a gente não tinha medo. Na quinta tentativa, pulamos na frente do carro. O rapaz efetuou um disparo no coração de um amigo meu. Na hora deu hemorragia e ele caiu lá. A gente saiu correndo. Entendi que foi um despertamento, um livramento de Deus”, lembra. Depois daquele dia, o menino precisou sair do bairro. Dar um tempo. Familiares do adolescente morto queriam vingança. Longe de casa, decidiu “aceitar Jesus”.
Nas mãos de João criança, passaram drogas, armas, violência. Foi assim desde os 11 anos. A inserção do garoto no mundo da criminalidade coincidiu com o assassinato do pai, um homem envolvido com o tráfico de drogas e homicídios. “Depois que perdi meu pai, veio mais raiva ainda. A família dizia que eu não chegaria aos 14 anos de idade”. Ele roubava carros, motos, cavalos, vendia droga. Usava loló, maconha.
Antes disso, aos nove anos, chegou a frequentar uma igreja evangélica. Mas quando a mãe desistiu de ir ao templo, o menino desistiu junto. “A gente se envolve com coisa errada por conta do vício, da influência, do exemplo que os pais não dão. O jovem viver na presença de Deus é um milagre. E a família não quer saber de Deus. A gente vive numa residência onde de um lado tem a boca, do outro tem alguém cheirando loló.”
João mudou de vida, de vestimentas, de atitude. Quando se aproxima dos antigos colegas, costuma dizer: “Tire da fraqueza a força”. “Muitos amigos baixam a cabeça e dizem: ‘tá certo, tá certo’. Não é fácil sair do vício. Digo porque vivi. Minha mãe, tios, primos bebiam, fumavam, não tinham caráter aprovado. Eu via aquilo na presença de Deus e acabei me afastando da igreja. Hoje minha mãe tá na presença de Deus”. Muitos seguem ofertando drogas a João. Nessas horas, as lágrimas escorrem pelo rosto do menino. E ele pensa baixinho: tire da fraqueza a força. E segue.
Marcelo Pelizzoli, professor do mestrado em direitos humanos da UFPE e coordenador do Espaço de Diálogo e Reparação da UFPE, entende como importante o papel das religiões no resgate da drogadição. Mas faz um alerta. “Acho válido em vista do abandono do estado e da sociedade burguesa e desagregação familiar vivida hoje. Porém, não é suficiente. Deve unir-se a outras dimensões culturais, sociais, psicossociais e de direitos humanos”, reflete.
“Naquele dia, botei na cabeça
que não queria mais aquilo”
Érica estava grávida do primeiro filho quando foi torturada por policiais civis. A sessão contou com spray de pimenta, socos e saco enfiado no rosto. “Naquele dia, botei na cabeça que não queria mais aquilo para minha vida. Coloquei em risco a vida do meu filho”. Para quem foi dona de boca de fumo aos 16 anos, ganhava cerca de R$ 6 mil por mês e encarava a polícia com uma “afoiteza” incomum, aquela era uma decisão de peso.
O programa Liberdade Assistida de Jaboatão dos Guararapes ajudou Érica no processo de escape do crime. “Vinha para reuniões, palestras. O pessoal me tratava bem, ia na minha casa. Eu tinha parado de estudar desde o primeiro ano. Tive uma convivência que até eu me surpreendi. Não sou de brincadeira. Sou chata e nem eu imaginava que ia pegar amizade, gostar de todo mundo. As meninas se surpreenderam comigo. Eu era ruim. O que era de boca eu tava lá dentro. Vi matar pessoas que andavam comigo. Pensei: aquela pessoa podia ser eu. A que ponto cheguei.”
No mundo do tráfico, as leis são claras. E Érica conseguia escapar da maioria das situações de perigo. “Fiquei viva porque era muito esperta e porque não devia nada a ninguém. No crime, tem que ter respeito e cabeça. Se alguém vê que você tá crescendo, cresce o olho para te matar. Onde eu botava boca de fumo era só eu que vendia. Não tinha ninguém para competir comigo. Nesse mundo é um querendo tomar o espaço do outro. Ou toma ou compartilha. Se não, mata e fica com o local todinho”, explica. Érica está com 22 anos e dois filhos. Tem um pequeno comércio. Diz conseguir andar na rua de cabeça erguida. Sem ter medo de ninguém. Um passe certeiro para a liberdade.
Uma outra ação de inclusão desses jovens que vem dando certo em Pernambuco é a Rede de Justiça Restaurativa, da qual a Funase também faz parte e tem feito um trabalho de círculos restaurativos e de comunicação não violenta em algumas unidades. “Trazemos as histórias de vida, as necessidades de todos, as perdas, as conquistas, os mal feitos e as qualidades, os sonhos e como se pode conviver melhor assumindo em grupos as responsabilidades pelos atos. Um processo intenso de cuidado coletivo. E isso se mostra muito útil para lidar com conflitos, pois consegue reconhecer o que tem por trás deles. Quando as pessoas se sentem reconhecidas, aceitas em seu ser (para além do ato negativo que cometeram e que devem responder), elas se aproximam”, explica Marcelo Pelizzoli.
“Melhor viver pelo certo
que pelo errado”
Kléber alcançou os 20 anos. Os prognósticos construídos em torno do fim de sua vida deram errado. Quando completou 17 anos, buscou uma nova chance. Deixou para trás o tráfico de drogas e as ameaças. Conta ter sobrevivido porque não deixou dívidas no mundo do crime. Algo imperdoável na lei do tráfico. A história da tragédia particular de Kléber e de sua superação começa lá atrás, quando tinha 14 anos.
Kléber foi pego de surpresa. Estava tudo bem em casa quando o pai dele passou mal durante o banho. Foi o menino quem arrombou a porta. O primeiro a ver a cena daquele homem, até então forte, deitado no chão e tentando falar, sem conseguir. De janeiro a outubro ele permaneceu internado por conta do AVC. O companheiro de Kléber então se foi. “Quando soube da notícia, fiquei machucado. Sempre me espelhava nele. Fiquei deprimido. Em 2012, já me envolvi com droga. Cheirava loló, fumava maconha, andava com menino errado. Comecei a entrar para a vida errada. Traficar, vender droga. Nem ia mais para casa comer, chegava tarde. Final de semana chegava de manhã.”
O menino sabia das possibilidades de ser preso, mas queria crescer no tráfico. Aconteceu de ser apreendido. Encaminhado para a Justiça, terminou recebendo o benefício da Liberdade Assistida. Para ele, uma nova chance. “Agora minha cabeça é outra. Só vejo coisas boas para mim. Participei de palestras, só tive encaminhamento para o bem. Voltei a estudar. Coisa que não fazia há tres anos. Na Funase, podia ficar revoltado, na mágoa. Lá dentro, ia aprender a fazer coisas. É difícil sair certo de lá. É faculdade do crime.”
Psicólogo do TJPE e do MPPE, Paulo Teixeira fortalece a fala do jovem. “A superlotação nas unidades acaba atrapalhando na recuperação dos adolescentes. Para que o acompanhamento das medidas em meio aberto desse certo, também seria necessário uma maior contratação de psicólogos, assistentes sociais e educadores para acompanharem os adolescentes. A falta desses profissionais torna frágil o funcionamento do sistema aberto e faz com que aconteça a prevalência da utilização do meio fechado.”
Kléber traficou por dois anos, sem qualquer empecilho. Hoje enxerga o crime como uma ilusão. “Isso não é vida para ninguém. Você só prejudica a si mesmo e se afasta de quem gosta de você. O destino é cadeia ou morte. Você pode até ganhar dinheiro, mas um dia sua hora chega, como chegou a minha”. Kléber conta ter ganho muitos bens materiais graças ao tráfico. Perdeu tudo, mas tem o apoio da família e da nova companheira. “Bem material a gente consegue trabalhando. Melhor viver pelo certo que pelo errado”.
OS MUTILADOS
“Sofro muito sem minha filha
perto de mim”
Maria do Carmo, 38 anos, não sabe como trazer a filha caçula de volta para casa. A menina de 16 anos deixou a família, em Jaboatão dos Guararapes, e partiu para uma cidade do interior. A mudança aconteceu após Paloma ser apreendida por policiais do Departamento de Repressão ao Narcotráfico (Denarc), em maio, com três quilos de maconha dentro de uma bolsa. Ao chegar na delegacia, a adolescente não informou de quem era o entorpecente, nem a quem o entregaria. Em meio ao silêncio da garota, as imagens encontradas em seu celular “falaram”. No aparelho, ela posava com armas.
Há dois anos, Paloma adotou um comportamento diferente. Deixou de frequentar a escola, mudou o modo de vestir e falar. Também ficava muitos dias longe de casa. Os conselhos da mãe não eram ouvidos. “Não sabia nada do que ela fazia, mas sempre pedia para não andar com pessoas erradas. Ela dizia pra mim, ‘fique de boa, mainha’. Minha família é toda do interior e ela arrumou umas amizades por lá. Costumava passar vários dias com esse pessoal que eu nem conheço. Antes disso, ela e as duas irmãs moraram sozinhas. O pai delas, de quem sou separada, alugou uma casa e as três foram viver sós quando ainda eram menores. Mas faz um ano que estão comigo de novo”, conta Maria do Carmo.
No dia da apreensão de Paloma, já fazia mais de duas semanas que ela estava distante da família. Deixou um bilhete para a mãe e para as duas irmãs mais velhas dizendo que mandaria notícias. O recado é guardado com carinho. “Ela fez 16 anos no dia 16 de abril. O pai dela deu o dinheiro e fizemos uma pequena comemoração em casa. Ela sempre gostou dessas coisas. No outro dia, logo cedo, ela foi embora para o interior e levou todas as roupas. Quando a encontrei novamente já foi na delegacia. Foi um susto danado. Isso me machucou muito. Nenhuma mãe quer ver um filho nessa situação”, aponta.
Maria não abraça a filha desde a apreensão. Após ter passado uma noite à disposição da Vara da Infância e Juventude, a adolescente foi liberada. “Voltamos para casa todos juntos. Eu e minhas filhas demos vários conselhos para ela mudar de vida. Nada disso adiantou. Foi só o dia amanhecer que ela foi embora de novo. Sofro muito sem minha filha perto de mim. Ela ficou muito rebelde, nem parece aquela menina que eu criei com tanto amor. O meu desejo é que ela volte para casa, volte a estudar e mude de vida. Essa vida dela não leva ninguém a lugar nenhum”.
Paloma não conheceu a realidade das unidades de internamento para adolescentes. Somente este ano, oito adolescentes foram mortos cumprindo medida de privação de liberdade em Pernambuco, segundo dados da Funase.
“Fez novas amizades
e não escuta meus conselhos”
A comerciante Fátima tinha 18 anos quando engravidou do primeiro filho. Decidiu deixar o bebê com a mãe dela. Precisava trabalhar para sustentar a criança. É assim até hoje. O pai de Rafael morreu e ele, com 16 anos, ainda mora com a avó. Em maio, a vendedora chegava em casa quando recebeu a notícia do filho baleado. O adolescente estava em um cachorro-quente, na companhia da namorada, na periferia de Paulista, quando dois homens em uma moto chegaram atirando. No meio da confusão, a dona do comércio de cachorro-quente, de 51 anos, foi baleada e morreu. Ferido no braço, Rafael foi levado para o Hospital da Restauração (HR).
Encontramos Fátima no HR. Esperava para visitar o filho. As notícias apontavam que Rafael teria feito a mulher de 51 anos de “escudo humano” para não ser atingido pelos disparos. As informações repassadas pela polícia no dia do fato indicavam que o crime havia sido motivado por tráfico de drogas. “Tinha muita gente no cachorro-quente quando chegaram dois homens de moto. Um deles já desceu com a arma na mão e começou a atirar”, lembra Fátima, hoje com 38 anos.
Rafael, conta a mãe, mudou de comportamento quando fez 14 anos. Começou a usar maconha e chegou a ser apreendido por tráfico de drogas. Passou 45 dias detido e depois foi liberado. “Não sei dizer se ele estava devendo algum dinheiro de drogas. A vida dele começou a mudar quando saiu do colégio particular que estudava desde pequeno e foi para uma escola pública. Fez novas amizades e não escuta meus conselhos”, conta Fátima.
O juiz Paulo Brandão, titular da 3ª Vara da Infância e Juventude, lembra que a violência precisa ser discutida de maneira mais profunda. “A família também precisa perceber que ela tem a responsabilidade sobre o adolecente. Isso não é um papel apenas da escola ou da Vara da Infância e Juventude. Também não se pode partir para cobrança com violência para cima desses pais, pois muitos estão despedaçados também. Nos parece que todo mundo só sabe falar da violência e cada vez mais entramos nessa neurose do discurso da violência. Isso é a ponta de um iceberg e nós precisamos ir para a base desse iceberg e entrar na discussão. Se não fizermos isso agora, um dia teremos que fazer”, pontua.
“Passei 25 anos combatendo
esse tipo de delito”
O erro de Eronildo Jerônimo da Silva, 50 anos, foi esperar a casa ficar pronta. É ele quem diz. E não se perdoa por isso. Se o filho ainda estivesse vivo, faria tudo diferente. Levaria o menino para a casa ainda em obras. Quem sabe o adolescente teria escapado de uma morte tão violenta. Eronildo nunca saberá o resultado de uma escolha diferente. Sabe apenas o tamanho da dor de perder o único filho homem. Está mutilado. Ganhou quilos, anda bebendo mais, chorando. Saiu das redes sociais para não ver circular imagens daquele corpo tão familiar atingido por tiros.
Eronildo estava separado da mãe de Deaviles Jerônimo, 17 anos e quase dois metros de altura. Em março do ano passado, começou o inferno da família. A mãe descobriu no quarto do adolescente indícios de uso de drogas. O menino também andava sumido da escola. Começava a chegar de madrugada em casa ou no dia seguinte. Envolvia-se em confusões na rua. As coisas não eram mais como antes. As conversas aconteciam. Deaviles baixava a cabeça e chorava. Nos dias seguintes, as situações voltavam a acontecer.
Em maio, a confirmação das suspeitas. Um vídeo circulou nas redes sociais com imagens de Deaviles praticando um assalto em uma loja no Centro do Cabo de Santo Agostinho. E Eronildo, o vigilante, começou a enfrentar um dilema particular. “Passei 25 anos combatendo esse tipo de delito. Fiquei triste. Não conseguia entender. Como trabalhar de segurança? Quando descobri o assalto nas redes sociais, pensei como ia combater um crime se eu tinha uma pessoa fazendo isso, sangue de meu sangue? Não me via mais em condições de trabalhar como segurança. Sempre tive orgulho de ser vigilante, mas perdi o amor pela profissão.”
Pouco antes do filho ser assassinado, Eronildo soube que seria desligado do emprego. Alimentou ainda mais os sonhos de levar o filho para junto dele, na nova casa. “Perto de mim seria melhor. E morar comigo era o sonho dele”, lembra. Não deu tempo. Era dia 28 de julho quando ele recebeu a notícia trágica. O filho fora atingido por tiros. Foi à luz do dia. No meio da rua movimentada.
Dois dias antes, o menino pediu um dinheiro emprestado ao pai. Garantiu que não era para pagar dívida de drogas. Eronildo já havia negociado uma vez com um traficante. Disse que emprestaria o dinheiro a Deaviles. “Até hoje sinto muita falta dele. Era um bom menino. Eu me culpo muito por não estar com meus filhos diariamente. Faltava a presença do pai. Acho que a separação pode ter afetado muito a vida dele”, reflete Eronildo, despedaçado em culpa, em saudade. Deaviles estava prestes a entrar no Exército, antigo desejo do pai. Entrou para as estatísticas de jovens assassinados em Pernambuco.
A AJUDA HUMANITÁRIA
“Por uma vida, sou
capaz de qualquer coisa”
Aconteceu há 17 anos. Um adolescente tirou a vida do companheiro de Cícera Maria da Silva, 65. Foi para roubar uma moto. O menino foi apreendido. À mulher em prantos diante de si, ele confessou que não tinha a intenção de matar. Mas aconteceu o imprevisível. A dor em Cícera ainda ferve. Depois da tragédia, precisou ressignificar a própria vida.
Na época, já morava em uma comunidade carente de tudo, a Buenos Aires, em Jaboatão dos Guararapes. Também já cuidava de garantir os direitos humanos usurpados dos cidadãos, através de um trabalho firme na associação de moradores. A luta era por saneamento básico, energia elétrica, abastecimento de água, transporte público digno. Então, pensou: sua missão seria evitar que outras famílias passassem o mesmo sofrimento que ela. Para isso, precisava resgatar meninos e meninas em situação de vulnerabilidade social.
Cícera hoje coordena um programa de Liberdade Assistida (LA) no município em convênio com a prefeitura. Além dela, somente um padre faz serviço semelhante em Jaboatão. Calcula “salvar” cerca de 60% dos jovens atendidos. “Não consigo salvar todos. Por uma vida, sou capaz de qualquer coisa. O segredo é amor, entrega. Eles têm que se sentir amados para poderem valorizar a própria vida. Precisam sentir que alguém ama eles”, explica. Cícera costuma fazer isso com abraços. E faz tudo parecer simples. Do discurso à prática.
Clarice Miranda é psicóloga da Associação de Moradores de Buenos Aires. Trabalha em sintonia com Cícera. “Nossa meta é atender 75 jovens. Atendemos atualmente 52. É para onde vem a maioria dos adolescentes infratores. Temos apenas 30 internados nas unidades da Funase. A maioria do nosso público, ou seja, 80%, tem envolvimento com o tráfico”, afirma.
A Liberdade Assistida é uma das medidas socioeducativas definidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Prevê o acompanhamento do jovem em meio aberto por parte de ONGs e prefeituras e o encaminhamento dele para escolas e mercado de trabalho. É uma alternativa ao encarceramento. “O sistema está falido. Há denúncias de maus-tratos, tráfico. As falhas são desde a estrutura física à falta de aptidão técnica dos agentes socioeducativos. Os meninos e meninas não podem ser tratados como se fossem irrecuperáveis. Vemos adolescentes na flor dos hormônios sem fazer nada”, denuncia o promotor Guilherme Lapenda, do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude (CAOPIJ).
Entre 2005 e 2017, foram mais de 48 mortes. Todos mortos sob custódia do Estado. “Temos denúncias nas comarcas de Timbaúba, Cabo e Abreu e Lima, por exemplo. No entanto, se o juiz decide pela internação, as unidades precisam estar aptas a receber os adolescentes. Não se pode creditar o caos do sistema socioeducativo ao sistema de Justiça”.
“Denunciei para
meu amor voltar”
Alecsandra da Silva, 51 anos, fez a escolha mais difícil de sua vida. Entregou o próprio filho à polícia. Repassou detalhes da roupa, a exata localização dentro da favela. Em poucos minutos, a polícia chegou. André Roberto da Silva, 15 anos, não voltaria o mesmo daquela jornada em direção a um inferno chamado Funase. Quanto a Alecsandra, a vida lhe entregou um novo papel. Tornou-se representante das mães da Funase. Uma luta marcada pela solidão e pelo medo. Alecsandra hoje evita ser fotografada.
Com tão pouca idade, André já era um dos principais traficantes de drogas da Favela do Jacarezinho, na Cidade Universitária. Alecsandra lembra bem do dia fatídico. Ao chegar perto de casa, deparou-se mais uma vez com a cena do jovem na esquina negociando entorpecentes. Caminhou silenciosa até sua residência. Pegou o celular e ligou para policiais da Rocam.
Corroída pela culpa, Alecsandra segue cumprindo o pedido do filho. Pouco antes de morrer baleado, o adolescente colocou a cabeça no colo da mãe e disse: “Mãe, te amo. Não desiste de meus amigos da Funase.” E assim tem sido. O jovem morreu dias depois de deixar a unidade de Abreu e Lima, onde passou sete meses. Foi assassinado por dois homens, antigos comparsas da Favela do Detran. Aproximaram-se em uma moto quando André tomava um refrigerante sentado no colo da mãe, na frente de casa. “Eles disseram: ‘Ei, boy’ e meu filho falou para mim: ‘Fique aí, não venha não’. Senti medo nos olhos dele. Estava pálido. Eles deram seis tiros. Corri para cima. Ainda levei um tiro de raspão”, lembra.
Alecsandra conta ter entregue o filho à polícia para salvá-lo. Até fez curso de lancheteria na unidade de Abreu e Lima para ficar perto de André. Cuidar. “Ele não era mais o mesmo menino depois que saiu da unidade. Não tinha mais vontade de viver. O corpo estava todo furado. Passou por muita coisa lá dentro. Só rebeliões foram três”. Para ela, se a Liberdade Assistida funcionasse, o filho dela não teria morrido. Essa é uma das suas principais bandeiras hoje. Com frequência, Alecsandra recebe denúncias de irregularidades dentro das unidades. Depois da morte do filho, foi vítima de dois atentados. Não sabe de onde partiram as ameaças.
Na opinião do promotor Guilherme Lapenda, do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude (CAOPIJ), o resgate familiar promovido por Alecsandra foi acertado. “A família deve ser orientada a perdoar e não comungar com o ato infracional. Muitas famílias são beneficiadas com a prática das infrações.”
Oito anos se passaram desde o assassinato de André. A cada ano, no Dia das Mães, Alecsandra ainda percebe a presença do filho. “Sou evangélica, mas sinto um cheiro forte. Sinto que meu filho me protege, me ama. Meu filho fazia pipa para vender, pegava beta, azeitona. Não conhecia mais ele depois que entrou no tráfico. Ficou frio. Foi por conta de amizade errada. Na Funase é que vim conhecer meu filho novamente. Tinha que denunciar ele para meu amor voltar”. Quanto a André, esse morreu sem saber quem tinha lhe denunciado à polícia. Melhor assim, pensa Alecsandra.
perfil das vítimas
Das 199 crianças e adolescentes mortas de janeiro a abril de 2017:
vítimas ou
%
tem 17 anos
vítimas ou
%
são do gênero masculino
vítimas ou
%
assassinadas à noite ou de madrugada
vítimas ou
%
são pardas
Fonte: Funase e deputado estadual Edilson Silva (PSOL), que entrou com um pedido de informação para ter acesso e dar publicidade aos números de homicídios em Pernambuco
ENTREVISTA: HUMBERTO MIRANDA
Um exército com a infância roubada
Segundo estudioso, conseguimos vencer a mortalidade infantil no país, mas aumentamos o número de adolescentes da periferia que são assassinados
Antes de condenar é preciso compreender o complexo cenário das crianças e adolescentes recrutados para a prática de infrações. Pensar e buscar soluções. Autor de sete livros com a temática dos direitos da criança e do adolescente, o professor Humberto Miranda faz o alerta.“Só a justiça social, o combate à pobreza, o investimento em educação, esporte e lazer, além do respeito aos direitos fundamentais, na sua integralidade, podem impedir que esses meninos e meninas adentrem no mundo do crime.”
Matéria publicada na Superedição desse final de semana mostrou a face invisível de jovens em conflito com a lei, a luta de suas famílias para resgatá-los da violência, além de testemunhos de superação e de solidariedade.
Para Humberto Miranda, que também é professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) e coordenador do Laboratório de História das Infâncias do Nordeste/Escola de Conselhos, falar em redução da maioridade penal ou do aumento de internação é reproduzir um erro histórico. “As experiências já nos ensinaram que esse não é o caminho.”
O especialista lembra, ainda, que as crianças e adolescentes sempre serviram como objeto de interesse dos adultos, inclusive nos conflitos bélicos, e que hoje mudou apenas o perfil do explorador, agora representado principalmente pelo traficante de drogas. Na entrevista abaixo, Humberto Miranda fala, ainda, da abordagem policial preconceituosa junto aos jovens das favelas, extermínio da juventude negra, participação das meninas e de jovens da classe média na prática de infrações e critica a atuação da Justiça. “A Justiça não é justa. As seis medidas socioeducativas não são levadas a cabo para os mais abastados.”
“Existem diferentes
formas de abandono”
Como o senhor analisa, do ponto de vista histórico, o recrutamento de crianças e adolescentes, por parte de adultos, para a prática de infrações?
Prefiro classificar esse exército juvenil como um exército de crianças e de adolescentes que tiveram suas infâncias roubadas. Ao longo da história, crianças e adolescentes sempre serviram como objeto do interesse dos adultos. Mas quem seriam esses adultos? No passado, esses adultos pertenciam ao próprio estado, que recrutavam os meninos para guerras ou outros conflitos bélicos nos quais as crianças e adolescentes eram convocados a fazer parte dos batalhões. Isso aconteceu, por exemplo, na guerra contra o Paraguai. Hoje esses adultos são outros. É o tráfico que assedia diariamente crianças e adolescentes que, fascinados pelo mundo do consumo ou com outros interesses, adentram no mundo do crime.
Como o senhor percebe a questão de gênero dentro desse recrutamento juvenil? As meninas ainda são minoria nesse universo.
As meninas muitas vezes são levadas para esse mundo a partir da relação que elas têm com os seus namorados, pais, padrastos. É, de fato, uma questão de gênero. É muito importante pensar a condição da menina. Focar a especificidade. As meninas são duplamente violentadas. Por estarem vivendo em situação de pobreza ou de rua e por serem meninas. A historiografia registra que a criminologia chegou a afirmar, no século 19, que as diferenças entre homens e mulheres eram marcadas pelo grau e o tipo de crime, assim pensava Lombroso. Nas minhas pesquisas nos arquivos históricos, o número de meninas sempre foi inexpressivo, seja no acervo da Casa de Detenção do Recife, seja nas unidades da Febem, a partir da década de 1960. Mas, não podemos nunca deixar de lembrar que elas são duplamente exploradas, ora pelos seus namorados, ora pelos agentes do estado. Muitas entram no mundo do crime para fugir da violência doméstica. Elas podem ter diferentes papeis nesse universo. Muitas estão em situação de rua e podem assumir até um papel de líder. Desse modo, é importante desconstruir o mito de que elas estão à margem do poder do homem ou do adulto.
Quem cumpre medida socioeducativa ainda são os pobres. O retrato dos presídios se repete nas unidades da Funase. Onde estão os jovens ricos envolvidos com a prática de infrações?
Os filhos da classe média e das famílias ricas não aparecem. Eles fazem parte do movimento, são consumidores, negociadores, traficam, articulam. Mas são marcados pela cultura do silenciamento. Existe toda uma prática de não visibilizar esse tipo de envolvimento de adolescentes de classe média, que até entendo, pois é preciso cuidado e proteção. O problema é que é uma questão que o estado não resolve. A família e a escola particular também se empenham em silenciar. O estado não é provocado, chamado para atuar. Para você ter uma ideia, as escolas particulares não querem nem que o carro do conselho tutelar estacione na frente do prédio delas. Para eles, tem uma bolha de proteção. Existe um silenciamento. Para quem nasceu com o bilhete premiado, a sociedade produziu outra forma de olhar. Temos inclusive relatos que comprometem o próprio sistema de Justiça, haja vista que para os filhos da classe média, não precisa nem ser jovem rico, existe uma outra forma de justiça.
Que outra forma de justiça é essa?
Trata-se de uma questão complexa, mas o que considero é que a gente não pratica uma justiça justa. Existe um grande distanciamento em parte dos casos entre o sistema de Justiça e a prática. A Justiça não é justa. As seis medidas socioeducativas previstas não são levadas a cabo para essa população mais abastada. A prestação de serviço, por exemplo, muitas vezes não é levada a sério. Não há cultura de respeito efetivo às medidas. Temos uma cultura que remete ao Código de Menores, voltado para o menor, o delinquente, o carente e o abandonado. Costumo dizer que os operadores do Estatuto da Criança e do Adolescente operam o Estatuto com cabeça de Código de Menor, seja a Justiça, seja a polícia.
Por falar em polícia, como o senhor analisa a abordagem policial nas favelas junto aos jovens negros e pobres?
Os policiais sabem que existe o Estatuto, mas a prática higienista de controle e repressão ainda faz parte. Não posso dizer que não mudou nada. O sistema de segurança sabe que precisa ter cuidado, mas a cultura e a abordagem ainda são repressivas, punitivas, classistas, racistas e muitas são homofóbicas. Observo que até existe conhecimento dos direitos humanos e do Estatuto, mas essa informação não é aplicada na prática. O que torna a situação mais grave, pois a polícia sabe e não pratica. Eu vejo que essa informação precisa ser efetivada na prática, que se concretize na abordagem, em como ela é conduzida. O caminho é investir na formação continuada do sistema de segurança para ter segurança mais humanizada e cidadã.
Ao registrar homicídios de crianças e adolescentes, a polícia costuma classificar a vítima, na maior parte das vezes, como parda. O senhor avalia essa classificação como racista?
É preciso analisar essas classificações historicamente. Muitas vezes as pessoas e as instituições utilizam a expressão pardo para negar a identidade negra. A pesquisadora Mariza Correa, que estudou a criação das instituições criminalísticas, afirma que tais expressões têm uma história marcada pela negação da cor negra. Para alguns dicionários, pardo é sinônimo de mulato ou de escuro, que são expressões racistas. É fundamental respeitar o que diz o Movimento Negro. É importante ter muito cuidado para não reproduzirmos expressões discriminatórias. O que se vê é que quem está morrendo nas periferias são nossos adolescentes negros. O extermínio da juventude negra é algo extremamente preocupante. Fruto de um passado escravista que insiste em permanecer nas práticas institucionais. Segundo o Mapa da Letalidade contra Crianças e Adolescentes, publicado no ano passado, conseguimos vencer a mortalidade infantil, mas aumentamos o número de adolescentes da periferia que morrem, que vivem todo esse cenário de desigualdade social. Isso exige da gente um olhar sensível para a questão étnica. É possível construir um outro mundo para a criança e o adolescente, onde a questão dos direitos humanos estejam como prioridade.
A Funase no atual modelo não ressocializa. Quais os caminhos da ressocialização?
É verdade. Acredito, inclusive, que a Funase não é a principal responsável pela falência do sistema socioeducativo em Pernambuco. O problema é do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente. Quem direciona os meninos e as meninas para as unidades da Funase? Por que muitos estão cumprindo medida socioeducativa em meio fechado quando deveriam estar cumprindo a Liberdade Assistida? Observo que os caminhos precisam ser repensados. A sociedade fala da redução da maioridade penal ou do aumento de internação. Estão reproduzindo um erro histórico. As experiências já nos ensinaram que esse não é o caminho. O primeiro passo desse outro caminho é repensar o Sistema de Garantia de Direitos.
E como frear a entrada dos jovens nesse universo de violência?
A questão dos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas é de responsabilidade de todos nós. Da família, do Estado e da sociedade. Só a justiça social, o combate à pobreza, o investimento em educação, esporte e lazer, além do respeito aos direitos fundamentais, na sua integralidade, podem impedir que esses meninos e meninas adentrem no mundo do crime. Passamos uma década questionando o Código de Menores e a Febem. Produzimos o Estatuto da Criança e do Adolescente. Projetamos um caminho, mas só ficamos nos primeiros passos. A cultura do Código de Menores e da Febem ainda faz parte de nossas práticas.
Economicamente falando, praticar uma infração dá retorno mais rápido para crianças e adolescentes. No entanto, a pobreza, por si só, não define o encaminhamento para esse universo, senão jovens ricos não se envolveriam em infrações. O que está por trás do comportamento do jovem envolvido com a marginalidade?
Existem diferentes formas de abandono. O chamado jovem rico também pode vivenciar uma experiência de abandono. Costumamos até ouvir o questionamento alarmante: “Como o filho de José, que tinha tudo, entrou no mundo da criminalidade?” Será que tinha tudo mesmo? Desse modo, é importante perceber que tal questão é complexa e mais importante ainda é perceber as diferentes trajetórias e evitar o determinismo de classe social para tentar explicar o envolvimento dos jovens no mundo da infração. Contudo, não podemos nunca negar que os nossos adolescentes pobres, negros e da periferia estão mais vulneráveis e, neste caso, é necessário que a família, o Estado e toda a sociedade estejam sensíveis e dispostos a enfrentar esse desafio.