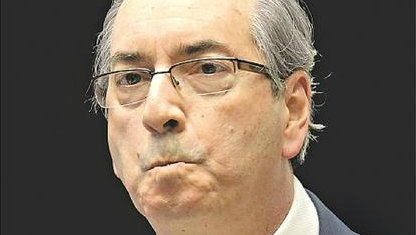Prática perigosa dos grandes partidos é que garante a ascensão de personagens como Eduardo Cunha.
Vandeck Santiago (texto)
Evaristo Sá/AFP (foto)
Em uma situação normal de temperatura e pressão políticas, um parlamentar como Eduardo Cunha nunca teria amealhado em suas mãos tantos poderes quanto ele amealhou. Se ele o conseguiu, com o apoio da grande maioria da Câmara e dos partidos, é porque o ambiente criado na Casa entrou naquela fase em que todos podem esperar o pior – e a maioria faz de conta que não vê porque espera que o pior aconteça com o adversário. O Cunha que foi cassado anteontem era o mesmo que venceu a eleição para presidente da Câmara, um ano antes. O mesmo. A diferença é que o que foi cassado era o que já não tinha poder, e perambulava moribundo como sombra do que fora, apenas esperando o golpe fatal.
Sempre houve parlamentares como ele, e, sem querer ser pessimista, digo que sempre haverá. Renovam seus mandatos atuando no varejo da política; os que se destacam entre eles ocupam alguns postos importantes na hierarquia da Casa, embora não os mais importantes, e assim vão seguindo. Cunha tinha outras habilidades, que não vou discutir aqui, uma vez que isso será feito pela Justiça e pelas investigações de que é alvo. Mas seguia o padrão de deputado sem brilho, engajado na defesa de bandeiras da “agenda moralista”.
Fazem parte de um bloco ora informal ora formal, dependendo das circunstâncias. São chamados de “baixo clero”; na época da Constituinte, eram o Centrão, termo que voltou à cena ultimamente. Vi ontem muita gente avaliando que com a cassação de Cunha esse grupo tenderia a desaparecer ou enfraquecer-se a ponto de perder completamente a influência que já teve antes. Não é bem assim. Esse grupo não desaparece nunca; seus integrantes apenas se espalham quando a situação é desfavorável. E concentram-se quando é favorável.
Aqui, porém, há um dado relevante a ser levado em conta: esse grupo não tem autonomia. Eles não ficam fortes quando querem; não têm a capacidade de influenciar quando bem entendem. Isso só acontece quando as outras forças – o alto clero, as lideranças de peso, os grandes partidos – decidem abrir caminho para eles. Ou seja, estas forças instrumentalizam o “baixo clero”; quando querem prejudicar a força adversária, açulam os personagens que condenados a ficar nos bastidores veem a chance de ir para a frente do palco e ser protagonistas da peça, como Eduardo Cunha.
O componente assustador do cenário é que todos os governos, independentemente de quais partidos estejam no poder, precisam lidar com esse grupo para construir a maioria e aprovar os projetos que enviam para o Congresso. Escrevi “lidar”, mas entenda-se o termo como sinônimo de “negociar”, com todas as consequências que isso acarreta.
Embora não tenham autonomia política, no sentido de fazer o que querem, esse grupo vem consolidando sua autonomia partidária – por que ficar numa legenda tradicional, quando podem criar a própria ou apropriar-se de uma delas? Legendas artificiais, que servem de guarida eleitoral e ainda por cima dão direito aos recursos do fundo partidário e espaço para propaganda em rádio e TV.
No Congresso que cassou Dilma Rousseff e Eduardo Cunha existem 27 partidos representados. O total de legendas com registro aprovado no Tribunal Superior Eleitoral é maior, 35. Trata-se de um exagero, e desse exagero coisa boa não pode sair.
Eduardo Cunha tornou-se um personagem do passado; o ideal era que o seu exemplo servisse para cuidarmos melhor do nosso futuro. Ontem, ao comentar a cassação dele, o presidente do Senado, Renan Calheiros, afirmou: “Quem planta vento colhe tempestade. É uma lei da natureza”. Estava referindo-se diretamente a Cunha, mas a frase pode ser projetada para a política em geral.